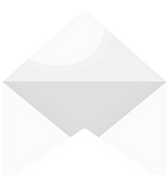portfolio
KOU
MATSUSHITA
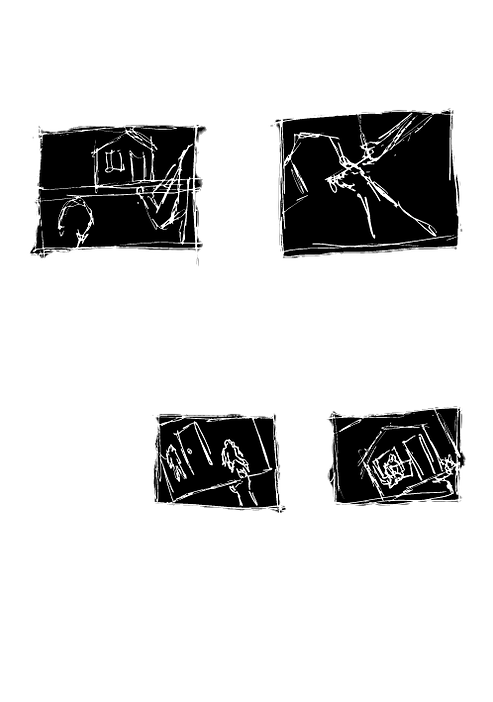
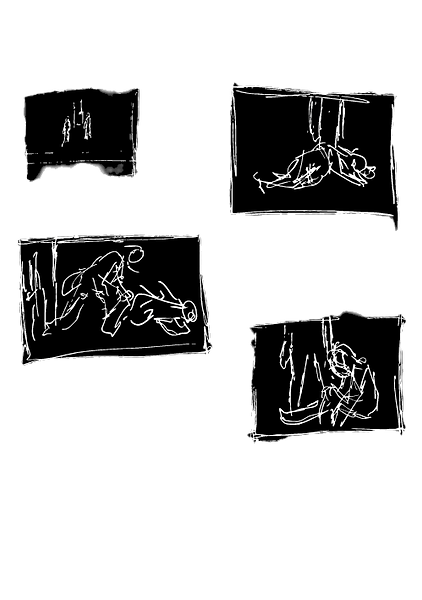
o caminho certo
Quando decidi cursar arquitetura, lembro que considerava a arquitetura uma forma de arte, mas de forma muito contemplativa. Achava que arte era esse ofício da contemplação, e meramente isso, sendo apenas uma obra a ser exposta. Me maravilhava com sua resistência ao tempo, gostava de considerá-la quase que estática e impermeável à vida. Como um quadro pendurado, sem muito representar além de sua própria beleza. De certa forma, acho que ainda considero a arquitetura uma forma de arte. Claro que, diferentemente de antes, valorizo mais, hoje, seu potencial comunicativo do que seu valor contemplativo. Mas ainda assim, tem uma definição um pouco fugaz, até mesmo internamente à mim. Já muito pensei sobre arte. Tentando encontrar definições, talvez um sentido. Analisar a própria análise de arte, entender quais os critérios usados para definir esse conceito meio amplo. Me imaginei em discussões com uma pessoa artista que acredito viver, ou já ter vivido, dentro de mim. Arte me parece um conceito tão elusivo quanto esses intangíveis que a gente acredita sentir.
Comecei com um pensamento simples, me lembrando de algumas conversas um pouco acaloradas que tive acompanhada de amizades e cerveja. Creio termos chegado na conclusão de que, de certa forma, tudo pode ser arte. Mas como valoramos a arte? Tecnicamente, a partir do ferramental utilizado e os conhecimentos utilizados para manipular tal ferramental? Ou funcionalmente, com uma interpretação causa e efeito que cada peça ou meio artístico provoca em nós? Talvez situacionalmente, a partir de como agregamos valor dependendo das ocasiões que envolvem alguma entidade que chamamos de arte? Analisando assim, realmente, não pode ser, tudo, arte? Como um quadro, pintado de tal forma, com tais cores; cores essas que provocam, por alguma associação que fazemos, algum sentimento; e algum sentimento que atrelamos a alguma situação. Tal descrição não poderia ser atrelada a qualquer coisa, ou momento que interpretamos como tendo algum valor a nós?

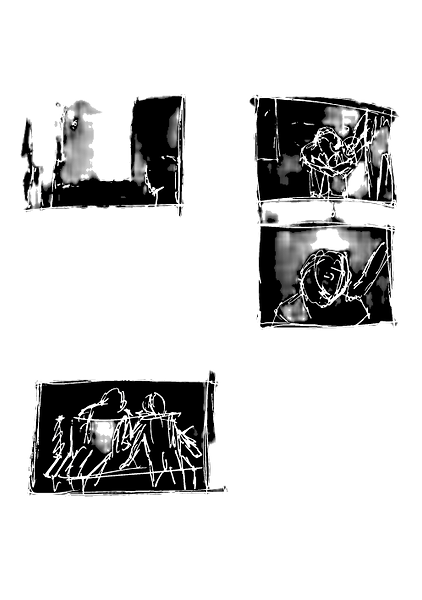
Muito criei paralelos entre minha própria vida e tudo que procurei explorar nesse TCC, seja o projeto, a arquitetura, etc. Imagino que seja porque, quando penso sobre arte, muito penso sobre mim. Me vejo como a obra de minha vida, pelo menos até agora. Anos e anos meticulosamente projetando e idealizando um futuro, e um presente. Uma personalidade quase cirurgicamente construída, com palavras, gestos e sentimentos certos para qualquer momento que as demandem. Ao mesmo tempo, com a audácia de deixar minha expressão ao mundo ser afetada pelo que realmente penso e sinto. Tenho medo, um dia tal projeto realmente se tornar perfeito, como execução quase selada a vácuo. Caso acontecesse, seria meu nome quem realmente sou, quebrando quaisquer limites que hoje traço entre esse espaço que abriga minhas e outras expectativas sobre mim, e quem me tornaria? Genuinamente temo essa ideia. Sempre tive um tato para construções de entidades extremamente complexas, tal como construo hoje todas as palavras e suas eventuais junções para traduzir o que sinto; tal como construo hoje essa entidade que visto como minha expressão ao mundo. Tal como construí, ou participei da construção, de diversas casas a servirem de expressão, e mediação, à alguém. Ao mesmo tempo, me parece também que tudo isso que digo e interpreto sobre minha realidade não vai além do que chamaria de normal. Sou uma pessoa simples, sentindo coisas simples, mas tenho o dom de complexificá-las a ponto de abandonarem essa simplicidade. Tenho, eu, medo da simplicidade?

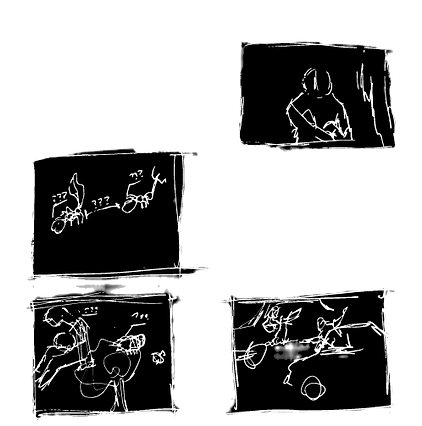
Agora, tenho medo de produzir obras de arte. A simplicidade, assim invocada aqui, não passa do entre que já comentei: é natural, imagino, temer algo que não fomos nem somos criados para sermos. Complexificamos pois assim controlamos, e uma vida sem controle é, incrivelmente, banal. Enquanto analisava uma quantidade significativa de vida, foi que percebi que há uma certa banalidade na existência. Utilizamos do acaso como desculpa - ou motivo, justificativa -, para o andamento de algo similar à destino. Melhor, creio que quase como meio termo entre motivo e artífice, como um olhar cruzado à iniciar um romance, ou uma ultrapassagem no trânsito à iniciar um conflito. Como os cachorros cheiram bundas alheias, coexistimos em fluxo até o minimo dos contatos nos desviar, ainda que mantendo a direção inicial. Achei cômico. A existência em conjunto tem em si uma banalidade de forma tão crua que é quase poesia em si.
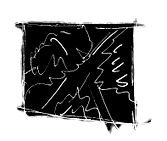
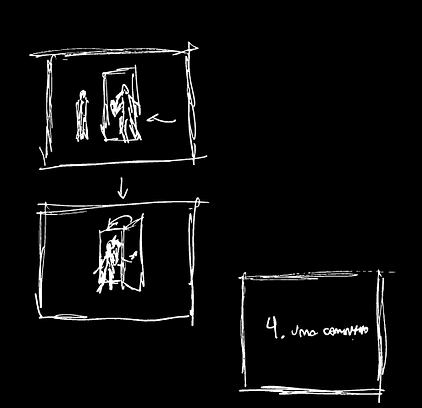
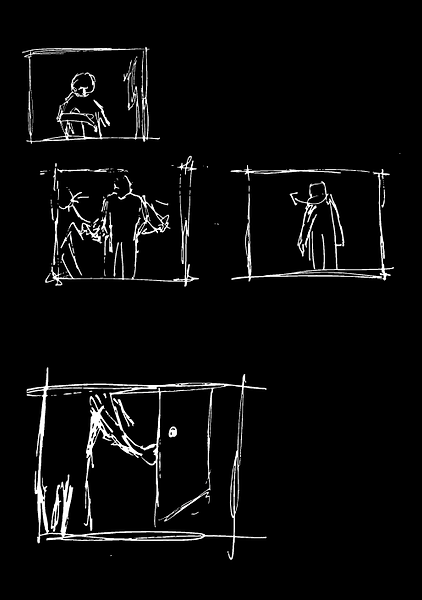
Segue, ao mesmo tempo que independe de algo construído, pois é carne e pensamento ao mesmo tempo, como um silêncio imperativo impregnado de seu ruído arbitrário. Tal percepção se nasceu de mim, e em mim, quando não ouvia nada além da vida, não partindo do que define a vida, do que define o todo e toda sua moralidade. Ouvia o que faz a vida, vida. Pessoas jogando frescobol, abelhas defendendo sua colmeia de crianças inocentes. Novos casais aprendendo a serem um casal, imersos no recém-descoberto desconforto do silêncio, mas sem a ele se resignar. E, de alguma forma, tudo isso ao mesmo tempo, cada situação autônoma em sua existência, mas coexistentes e correlatas em minha cabeça. Por mais que a banalidade sempre possa ser identificada como tal, a beleza que hoje vejo nela não me vem como vinha sua feiúra. O desprezo do banal vem com a não-banalidade de meu próprio pensamento. Desconhecer a autonomia da vida é relacioná-la a mim, e relacioná-la à mim é um questionamento direcionado. Mas o questionamento não passa da ilusão de dependência entre partes: a dependência da existência ao que a define. Não a há. Definimos e nos adequamos ao todo pela conveniência do que isso representa enquanto ser humano, enquanto sociedade, mas estamos constantemente sendo entre e vivendo entre.
um rol à violência
Então, entramos em um desvio. Recentemente, assisti uma série que retratava um personagem com personalidades múltiplas, e seu processo de compreender o que essas personalidades eram, e como elas eram ele. Lembro que a série me tocou de uma forma que não conseguia explicar, e de uma forma que sei que não ressoaria com outras pessoas como ressoou comigo. Até que, no final dessa série, me lembrei de uma entidade que vivia em mim. Um dos motivos para me julgar como alguém com “tato para construções de entidades extremamente complexas” é porque já o construí. Em mim viveu, teve um nome, e teve uma vida, até se dissipar em mim. E, imagino, que seja um dos motivos para minhas diversas dificuldades em compreender a arquitetura stricto senso, ou talvez à me compreender dentro dela. Da mesma forma, talvez seja um dos motivos para meus diversos questionamentos sobre a moralidade de uma criação, ou a moralidade de uma existência. Pensei nas diversas facetas que um algo construído em nós pode adquirir. Uma personalidade, como na série, como um sistema estrutural à organizar sobre, como e por que pensamos. Uma profissão, ou, melhor dizendo, uma vida profissional, como faço eu e imagino muitos outros. Um guia moral em prol de nossa responsabilidade enquanto pessoas em sociedade. Mas a linearidade com a qual podemos apreender nossa vida por vezes não comporta esse entre que tanto discuto. Por entre, aqui, digo a existência enquanto algo não pertencente apenas ao extremo de adequação à nossa significação enquanto indivíduo, tampouco pelo estado de uma animalidade ausente da significação; um nada e um tudo. Seria uma coexistência em ambas.
Citei essa entidade que me acompanhava, e hoje me é, pois sinto que sumariza bem minha relação com a arquitetura, e o motivo de utilizar tanto a palavra - pratica e teoricamente - nessa discussão. Tal entidade representava, resumidamente, um de meus artífices para conseguir lidar com minha própria existência, quando esta fugia da linearidade que eu - ou outros - tanto me propunham. Mediava minha relação comigo e com o mundo, sendo todos os eus que gostaria de ser, mas temia ser, ou todos os eus que já fui, e temia ter sido. Agora, retorno à arquitetura, procurando compreender exatamente como interpreto ela. Há tempos, deixou de ser essa ideia juvenil de uma arte contemplativa, mas também não ascendeu à essa desmaterialização do contato. Isto é, defendia no iTCC a arquitetura, associada ao cinema, como esse campo do não mediado. Como se permitisse a “pureza” de um contato entre pessoas de uma forma não mediada, existente somente no singular. Mas não me parece muito correta essa descrição: creio que temia um pouco a mediação, pois acreditava que esta era responsável pela extremidade com que via a significação e simbolização de um algo, seja um espaço, seja uma pessoa, seja uma linguagem.
Opondo-se aos conhecimentos professados que comentei anteriormente, lembro-me de algumas disciplinas que fiz onde a arquitetura era retratada de outra forma. Comentavam sobre a arquitetura como esse intermédio entre uma pessoa e outras, e lembro ter me questionado sobre, caso fosse realmente essa a definição de arquitetura, qual seria a diferença para a psicologia. Imagino que, para a psicologia, o trabalho se dê de forma mais interna, procurando munir alguém de sua capacidade de compreender e apropriar-se da palavra de formas que essa faça a mediação. Seria como o ensinar alguém a criar seus próprios espaços de conforto em desconforto perante quem com quem irá ter contato. Na arquitetura, creio que quem precisa munir-se é aquela que a faz, para propor um entre suficientemente entre à possibilitar a comunicação, entre aqueles que se propõe colocar em contato. E digo munir-se com a intençao de sua hostilidade, pois essa proposição parte de uma violência de nossa parte perante nós e outros, contida no contato em si. Parte de uma violência, a proposição de um algo, seja lá a forma que tome, que infere no contato. Tal como a tradução é uma violência - em um sentido de desorganização de um predeterminado - ao que está sendo traduzido, e à quem se traduz, imagino a arquitetura como a violência da permissão, e da restrição, do contato.
Talvez fosse isso que faltasse, pelo menos inicialmente, para compreender minhas dificuldades de simplesmente aceitar a plenitude desse “entre” que ocupo, e tanto falo. Aceitar que a arquitetura, que tanto procuro entender e me inserir, não parte apenas da permissão do contato, mas também de sua restrição. Aceitar a violência de se negar um contato, e a violência que há no próprio contato em si.
Creio que seja esse o motivo para considerar tanto a influência de uma construção interna minha nesse trabalho, tal como sua influência para minha interpretação sobre a arquitetura. Era, afinal, uma construção arquitetônica, como minha forma de me proteger daquilo que não conseguia comportar em meu nome, me negando ser mas ao mesmo tempo me permitindo sê-lo. Era uma entidade que me fornecia amparo para comunicar-me com o que me era externo, ao mesmo tempo que dele me protegia, ausentando-me da violência do contato que tanto temia. Antes odiava-o, pois era uma externalização do que me fazia humana, mas hoje agradeço-o, pois me protegia de uma violência que ainda não estava preparada para receber, e executar. Chamava-se Deo.